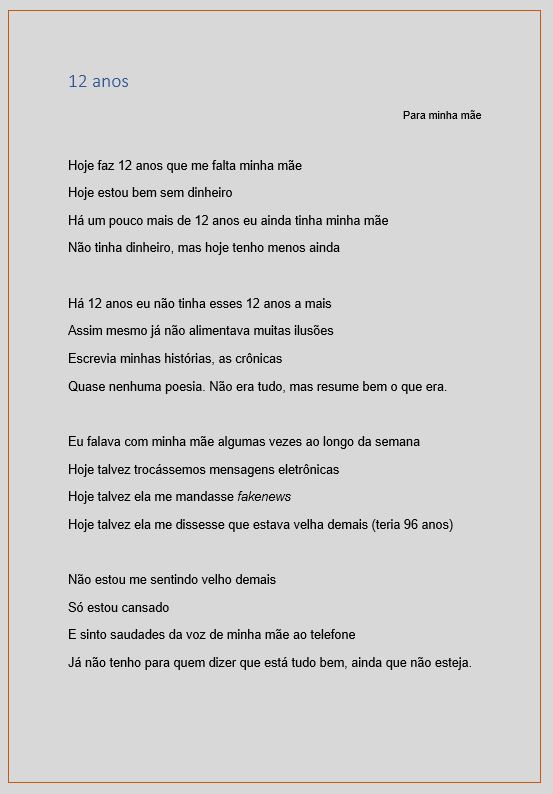28.7.19
22.7.19
A crônica da falta de assunto: módulo sem noção
Quando estive em Kentucky... Epa, nunca estive em Kentucky. Na América do Norte, fui a Nova Iorque já faz algum tempo. Uma cidade adorável, inclusive, pois é um lugar do mundo, ou pelo menos foi assim que a entendi em minha pequena estadia por lá. Não só há muitos estrangeiros, como, a despeito da profusão de símbolos nacionais espalhados aos quatro cantos, aquela imensidão cujo coração é Manhattan parece ser um espaço para além do espaço. Claro, minhas observações estão feitas à luz daquela visita rápida e da música, da literatura, do cinema e do jornalismo americanos com os quais, a vida toda, mantive contato. Portanto não me leve muito a sério. Ou leve, fica a seu gosto.
Quando não estive em Kentucky, fazia frio, nada parecido com os –38ºC marcados nos termômetros de uma cidade do estado, Shelbyville, em 1994, mas fazia frio. Desestando lá naquele fevereiro friorento, pensei em um punhado de coisas fora do alcance dos Estados Unidos da América, se é que isso é possível, afinal é do Império que estou falando. Mas vamos em frente, nem eu nem você, leitor ocasional ou não, precisamos ser tão rigorosos. Aceite meu ponto de vista: pensei em coisas sem nenhuma relação com as terras que já foram dos Apaches e dos Lenapes, entre outros.
Os Lenapes, faço uma (outra?) digressão, serviram de mote a uma das mais saborosas comédias românticas americanas, “O pecado mora ao lado”, de Billy Wilder, com a estonteante Marilyn Monroe e o espetacular Tom Ewell. No começo do filme, em off, uma voz assegura que os habitantes originais da ilha de Manhattan, justamente os Lenapes, no verão, mandavam as mulheres para as montanhas, ficando, naquele pedaço de terra cercada pelos rios Hudson, Harlen e East, apenas os homens. Essa tradição teria sobrevivido aos séculos. No filme, que se passa nos anos 1950, os nova-iorquinos (ao contrário de um certo presidente, não erro o gentílico) ainda mandavam as esposas para tomar uma fresca nas montanhas. Richard Sherman, o personagem de Tom Ewell, era o senhor casado cuja mulher se ausentara, e “A garota”, Marilyn Monroe, sua vizinha: o tal pecado que morava ao lado. Quem não viu o filme pode imaginar o que acontece. Mas não basta imaginar, é bom acompanhar a trama.
Ai, ai, vamos ver se me acho. Eu dizia que, quando não estive em Kentucky, pensei determinadas coisas não relacionadas aos Estados Unidos da América. Foram muitas, mas pouparei você, leitor, de quase todas, me poupando também de me lembrar delas e, pior, de escrever sobre elas. Cuidarei de uma, a mais importante.
O que eu pensava — agora a cabeça está em Monroe, mas nem vou dar detalhes, já abusei demais, peço-lhe desculpas — era o seguinte: a falta de noção de um cronista pode levá-lo a tal grau de delírio que, diante de um passarinho, ele pia; diante de um cachorro, late; de um burro, zurra. Apesar disso, diante ou não de outro homem, o cronista sonha. O sem noção sonha, o que garante que, na ordem e na desordem natural das coisas, ainda há alguma esperança.
20.7.19
18.7.19
17.7.19
16.7.19
14.7.19
12.7.19
11.7.19
10.7.19
9.7.19
8.7.19
A maçã matinal e o fim do mundo
Acordar, passar pelo banheiro para se aliviar das
necessidades mais prementes da manhã, coar o café, sentar-se à mesa e então
ingerir os venenos produzidos a um custo altíssimo de pesquisa, acrescido de
outros que garantem a comercialização e o acesso do produto ao consumidor, no
caso, o produtor rural.
Olhar a maçã, conferir se a lavou direitinho e decidir por
comê-la sem a casca, os riscos devem ser menores. Mordê-la e, ao contrário do
escritor francês que tinha delírios nostálgicos ao comer uns biscoitinhos, não lhe
chegar à boca ou ao nariz qualquer lembrança da infância. A maçã mata, não com
brevidade, aos poucos. E não sozinha, mas com a ajuda de outras frutas, dos
legumes, das verduras, dos cereais e das carnes. Morre-se por comer. Como Deus
é irônico!
A maçã é mais letal na outra ponta, não naquela em que está
o dono do negócio — por favor, isso nunca —, mas, sim, do lado do sujeito que
pulveriza as árvores com o agrotóxico que não deixa nenhum bichinho de maçã, o Cydia pomonella, se engraçar com a fruta
responsável por nossa expulsão do paraíso — que, agora, nos dará ao céu, se ao
céu formos dados. Aquele homem é, de fato, um esteta e garante a maçã grande, esfera
quase perfeita, encontrada nos mercados. Não é raro que os trabalhadores rurais,
atingidos diretamente pelo veneno, tenham vida curta, apesar das roupas
protetoras; são, portanto, estetas e vítimas.
Come-se para morrer, para morrer lentamente. Ora, ora, não é
a vida uma morte lenta? Verdade, mas, não fossem os venenos, morrer-se-ia de
coisa menos corrosiva e, mais importante, sem que o mundo morresse junto, ferido
pelo desastre ambiental que produzimos.
Como viver sem o aumento de produtividade, já que a terra é
pouca para os seus sete bilhões de habitantes? Não está aqui o romântico das
hortaliças, longe disso, a revolução verde, que chegou tarde ao Brasil, tem
méritos. Mas não raro erra a mão, e é aí que nosso país tem se excedido,
aprovando qualquer veneno, mesmo alguns já descartados em outros países.
Morde-se a maçã meio aguadinha. Lê-se o jornal e depara-se
com o projeto político de ignorância aviltante, no qual o agrotóxico em uso
desmedido é uma parte menor diante do ódio à Floresta Amazônica (responsável,
entre outras coisas, pela chuva nas demais regiões do país), do ódio à ideia de
um Brasil como peça fundamental no controle ambiental, do ódio à ciência. Odeia-se
muito e ama-se um quase nada.
Come-se a maçã e imagina-se uma cena: um assistente
aterrorizado (e com razão) entra na sala de um desses magnânimos da ignorância
e diz: “Estamos com dificuldade de exportar nossos produtos depois que abrimos
a porteira para não sei quantos novos agrotóxicos”. O chefe, que crê no mundo
plano, lhe responde: “Ora, nem me venha com primavera”.
As flores murcham.
E nós também.
7.7.19
6.7.19
2.7.19
Assinar:
Postagens (Atom)