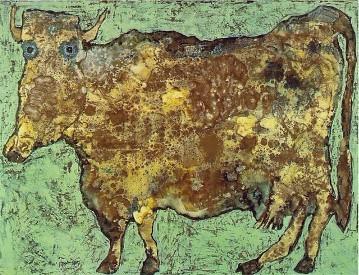Fui duas vezes a Araçatuba.
Na primeira, para um Natal familiar um pouco raro porque coincidia mais ou menos com os trinta dias da morte de meu tio Elin. Pisávamos em ovos, mas somos, a família eu digo, meio festeiros e nem luto nos impede de saracotear, ainda que dois passos pra cá, dois pra lá se misturassem, naquela ocasião, com lágrimas, as mais sentidas.
Na segunda, vejam quanta honra, convidado pela Academia Araçatubense de Letras, participei da sessão solene de final de ano, quando distribuem prêmios aos vencedores dos concursos literários que promovem e dão posse a novos membros. Além disso, lancei meu “Estão todos aqui”. Falo um pouquinho de cada coisa nos parágrafos a seguir.
Começo pelo lançamento. Chovia em Araçatuba (e por sorte não fazia tanto calor) e a expectativa era a de que o evento estivesse bem esvaziado. Surpresa geral: a família, em peso, não falhou, foram todos, chegando um pouco encharcados, é verdade, mas, como já disse, somos meio festeiros e nem chuva nos impede de saracotear, ainda que saltando uma poça d’água aqui, outra ali.
Além dessa manifestação extrema de carinho de meus primos, me chamou a atenção a livraria (Entre Páginas, rua General Glicério, 690) onde foi o lançamento. Não se encontra uma daquelas fácil por aí, não. Quem conhece esse mundinho dos livros pode imaginar que por trás do empreendimento há uma abnegada, uma idealista. Pois é isso mesmo. A livraria e seu café dão dignidade à Araçatuba, uma das poucas cidades com mais ou menos duzentos mil habitantes que pode se orgulhar de ter uma coisa daquelas. Torço para o negócio vingar e a dona enriquecer. Carisma não lhe falta.
Na livraria me acompanhava uma loura, ia de camisa preta com rosas vermelhas. É a Viveca, minha prima-irmã, grande responsável por tudo. Ela e a professora Cidinha Baracat, esta, por seu dinamismo e entusiasmo, uma mulher de tirar o chapéu. Cidinha é também uma acadêmica e foi quem teve a (estranha) idéia de me levar a Araçatuba. Se bem entendi, meus livros a cativaram (escritor vive disso, sabiam?).
No outro dia, sem chuva, lá fui eu para a sessão solene, na Câmara dos Vereadores. Meu Deus, era tanta gente com fardão. Eram idosos ao lado de jovens. Eram médicos, advogados, professores. Era o prefeito e um discurso que eu, por não viver ali, não pude entender plenamente. Me deu a impressão de rolar uma promessa de grana para a Academia, o que me levou, no improviso, a taxá-la de pífia e pedir mais. Inconseqüência estrangeira, a minha.
Não sabia muito o que falar para aquele público. De casa, havia levado o texto reproduzido abaixo (De onde escrevo), um guia antes de outra coisa. Abri a conversa contando minha ligação com a cidade, de meus parentes que foram para lá há muitos anos, na década de 40, salvo engano. Falei também de meu primo Paulinho, meu grande amigo de adolescência. Ele não estava ali, seus pais sim, mas ele não. (Como eu precisava do Paulinho na platéia. No outro dia, fui visitá-lo. Ele está careca e me deu uma meia dúzia de pares de meia e algumas horas de alegria e, e, ... não importa o que mais. Estive com ele, e rimos.)
A última parte da intensa programação foi um jantar com a turma da Academia. Minha família lá, festeiros como somos não é qualquer calor desumano, num lugar onde nem ventilador funciona, que nos impede de saracotear, ainda que o suor nos deixe menos elegantes do que somos.
Lá pelas tantas a Cidinha me chamou para dizer alguma coisa. Quando levantei da mesa, derramei água na camisa... Rasguei o verbo molhado e amarfanhado. Poderia ter rasgado um verso, mas minha memória, sei lá, acabo de esquecer como gostaria de qualificá-la.
Conheci uma psicóloga, feiticeira também, me pareceu, de uma cidade vizinha. Troquei algumas palavras com um escritor recém ingresso na Academia, um desses que concebem a vida interiorana como uma peça mágica elaborada sob medida por Deus. E ouvi um homem simples, marido de uma acadêmica, homem de mãos calejadas, contar uma história de discriminação ocorrida ali mesmo durante a confraternização.
Ele chegou e não havia mesas. Havia uma e somente uma, sobre a qual repousava um bule de café. Ele pensou bem pensado: para que serve um bule de café no início de uma festa? Tentou puxar a mesa, mas não lhe deixaram, ela tinha de ficar ali, com o bule. Ele, a mulher e a neta se meteram num canto do salão, sentaram-se no chão. Um pouco depois, ele viu outra mesa vazia. Sentou-se, mas não é que tentaram lhe tirar esta também? Estava reservada para outra pessoa. Nosso homem simples bateu o pé, e ficou. Bem, o bule de café foi desalojado e o tal convidado misterioso quando chegou encontrou a sua mesa prontinha, prontinha.
O homem simples me contou essa história porque me imaginava usando-a numa peça literária futura. Não sei, vale mais como história verídica mesmo, como exemplo de como estamos longe da sensatez que, em tese, distinguiria a raça humana das demais. Eu pensava isso, ouvindo o homem ainda. Agora comentava a minha “palestra” do dia anterior. Concordava comigo: sua sombra, como a minha, o acompanhava onde estivesse. Eu havia falado (leiam o texto abaixo) em assombro. Assombro, sombra... Nosso homem simples, que não se curvou à falta de mesa e à indelicadeza, reinventou minhas palavras. Nesse instante, sim, como disse um amigo meu, o homem me dava uma história para contar um dia.
Ainda fiquei mais uma manhã em Araçatuba. O suficiente para limpar a piscina da casa da Viveca, tendo como chefe o marido dela. Assim não, Alexandre. Isso, agora esfrega até a outra ponta. Escritor também trabalha (sob pressão). Como prêmio, Thales, o maridão, me deu uma caneta e uma lapiseira, as quais uso no meu dia-a-dia.
Lucros financeiros? Vendi alguns livros, mas dinheiro no meu bolso quando chegar não vai passar de umas migalhas. Portanto, lucro mesmo só meu caçula, o Pedro. Fui em Birigui visitar uma fábrica de calçados infantis, da irmã do namorado (a cara do Keanu Reeves) da Bárbara, a filha da Viveca. Escolhi um tênis e uma sandália, mas na hora de pagar não deixaram.
Se não fosse o fato de minha memória ser essa gelatina imprestável, me lembraria do nome do motorista que me buscou e me levou ao aeroporto de São José do Rio Preto. Outro homem simples, conversador, boa praça, bom motorista, o único que poderia ter percebido minha inquietação no momento da chegada e minha tristeza na partida.
De onde escrevo
(à Cidinha Baracat e ao Hélio Consolaro)
Sempre é de um lugar ou de um lugar-tempo, lugar-memória. Fala-se muito da infância, a partir dela, de sua nostalgia, sim, mas principalmente de seu encantamento, que nos marca a ferro e fogo.
No meu caso, será a infância se a ela associar-se a ignorância, não uma bestial qualquer, consciente e avessa ao conhecimento. Outra: ignorância inocente, condição de quem desconhece e não de quem nega ou renega.
O mundo me parece grande. Nos seus limites físicos, em seus colapsos geográficos. Maior ainda se a intenção de compreendê-lo não se voltar, em exclusividade, nem para o pronto da religião nem para a aventura da ciência. Porque o mundo cresce quando se apequena; quando é tão-somente um amontoado de gente (mais ou menos) organizada vivendo sobre ele; no seu colo; de seus troços.
Na linha da história, há um constante ascender e descender, neste se aninhando o germe da próxima ascensão e também o da próxima descensão. Fomos nômades, pastores, agricultores; encastelados hoje, aburguesados amanhã; crentes, utópicos, investigativos, guerreiros. Fabris inconseqüentes, ambientalistas raivosos. Fomos assim; vamos assim.
Mundo grande. Aberto à compreensão. Não uma única, várias; polifonia atonal, desafinada, também correta, senão burocrática, alegre e embriagadora. O economista olha assim. O sociólogo assado. O geógrafo releva. O antropólogo visita. E o escritor? Sua matéria é a ignorância, que se compensa, que se busca compensar, através do exercício do desbravamento.
Desbravar qual floresta? Qual obstáculo? Todos. Qualquer um. Até mesmo nenhum. Porque o escritor é, o escritor são. Se caminhássemos num imenso prado, Guimarães Rosa andaria só, com as mãos livres, seguido de longe por tímidos, cônscios de lhes caber apenas a tarefa da reprodução caricatural. Guimarães é único. Graciliano puxaria pelas mãos um séqüito heterogêneo: regionalistas, puristas do idioma, futuros exploradores do imensurável indivíduo (como um Noll). Clarice formaria outro bloco do eu sozinho, enquanto Mário de Andrade fixaria um projeto de coalizão artística ainda hoje ecoado (nova safra de escritores paulistas e outra de cariocas; nestes se vê mais claramente isso, pois demarcam o coletivo dando-se a si mesmos o selo de “Paralelos”).
Nem de longe pretende-se aqui teorizar, apenas se disse: somos vários de variadas formas, mostrando-se alguns e algumas das suas. Comum a todos a recusa de se vestir de um olhar ensinado. Ignoramos, portanto reinventamos, a roda a cada nova vez que nos colocamos em campo.
Eu escrevo entrelaçado a esse assombro do desconhecimento e arrisco a dizer que faço par com a grande maioria dos escritores. Disse assombro. Sobre ele, Julián Marías (História da Filosofia, Ed. Martins Fontes, 2004) afirmou ser a chama inaugural da filosofia. Ora, ora, nada mais natural que literatura e filosofia partam da mesma raia. Na primeira bifurcação, esta rumará para conter o assombro, conhecer tudo até o ponto em que não haja mais dúvida (quando então, sabemos todos, tudo se reinicia porque sempre há uma dúvida torta para uma certeza furada) nem assombro. A literatura, por sua vez, ao encontrar respostas não se dará por elas, porque o que lhe interessa é a travessia, é a peleja, é o vício da procura que nem sempre sabe ser de fato uma procura.