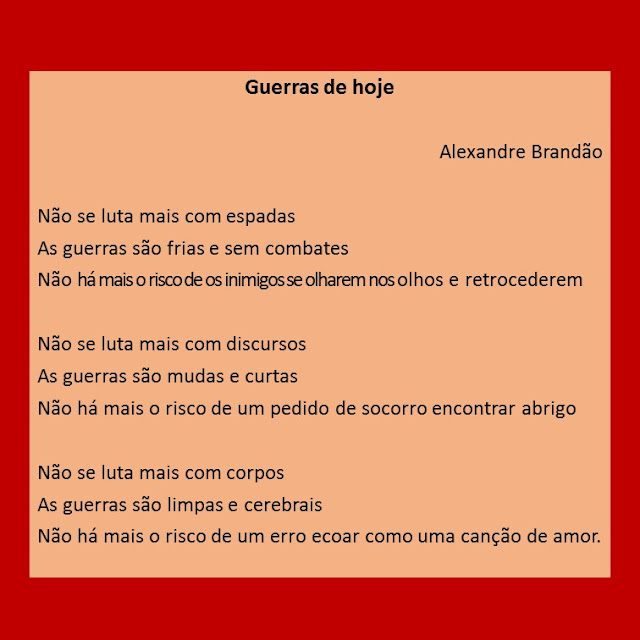26.1.20
20.1.20
Esmiuçando um país
 |
| Gennady Privedentsev, artista russo. |
Um país não é aquela roupa velha que se veste de quando em
quando, longe dos estranhos, na intimidade.
Um país não é uma saudade, sequer uma nostalgia miúda. Não é
uma música que seu pai cantava enquanto preparava o cigarro de palha. Não é a
lembrança que sua mãe mantém de um antigo amante.
Não é uma tarde com crianças correndo no quintal. Igualmente
não são dois vizinhos batendo papo pela janela de suas casas.
Um país não é uma bola na trave. Não é um grito inesperado daquele
homem que caminha em silêncio. Qualquer muleta abandonada na calçada é apenas
uma potencial metáfora para o país.
Por mais que se pense que um país seja suas sextas-feiras e
feriados, ele não é isso. Tampouco é o domingo, no qual velhos casais reencontram
o desejo.
Um país, veja bem, não é o conjunto de suas desgraças. Não é
o sorriso do velho banguela ao ver seu neto banguela rindo do vento que lhe assopra
o rostinho.
Um país não é nem a chuva ruidosa (muito menos a garoa) nem
a mulher que, no meio da rua, parece chorar e ao mesmo tempo sorrir. Não é a
gargalhada de um grupo de adolescentes.
Alguns querem que um país seja o aplauso comovido para aquela
cantora cuja voz é apenas um fiapo da voz de quando ela estava no auge. Esqueçam.
Um país não é a vassoura que varre a calçada.
Um país está longe de ser um assalto a banco. Do mesmo modo,
está longe de ser um ato altruísta de um mendigo. Até poderia ser, mas não é,
um beijo que o senhor violento, às escondidas, dá em uma flor cujo cheiro é
mais intenso que a cor. Um país não é a sua literatura ou seus muros pichados.
Um país não é uma greve geral. Não é um dia sem consumir
carne ou um dia sem consumir ou um dia em que se vai de visita ao túmulo dos
pais.
Um país não são as crianças na escola. Não são os jovens na
escola. Não são os adultos empregados. Não são nossas certezas ou sonhos.
Um país não é um filme de terror — ainda que um filme de
terror possa ser um país; ainda que uma comédia possa ser um país. Ainda que a
tristeza possa representar o país. Ainda que a alegria faça parte das saudades
de um país.
Um país não é a sabedoria. Não são os acepipes servidos em
reuniões festivas. Não são as quitandas cuja receita é anterior ao próprio país.
Um país não são seus tambores e festas.
Um país não tem o rosto que os mapas dizem que ele tem.
Um país — o nosso — é um daqui a pouco urgente.
15.1.20
40 anos no Rio
Cheguei ao Rio no dia 5 de março de 1980. Vim depois de
passar as férias em Passos, mas eu já não morava lá, saí de minha cidade em
1977, mudando-me para Belo Horizonte.
Um dia talvez eu escreva alguma memória sobre esse período,
mas hoje minha intenção é apenas justificar porque, na efeméride dessa data,
resolvi lançar um livro de poesia.
O fato é que a poesia foi minha primeira manifestação
artística. Ainda criança, fazia musiquinhas e, um pouco mais tarde, compunha
músicas bem precárias. Dessa experiência o que ficou foi a poesia.
Em 1986, minha irmã Patrícia trabalhava na Imprensa Oficial
de Minas Gerais, e ali se fazia (e ainda faz, creio) o Suplemento Literário de
Minas Gerais. Ela sabia que eu escrevia, conhecia minhas músicas. Como lá no
Suplemento circulava um conterrâneo nosso, o premiado poeta Antonio Barreto, a
Paçoca levou um material para ele avaliar. Acho que mandei uns cinco ou seis
poemas. Passado um tempo, recebi tudo de volta com anotações (tenho tudo em
casa, sabe-se lá onde). Mais surpreendente, três foram publicados.
Quando me derramo de agradecimento ao Barreto, ele diz que
não teve essa de QI, não. Seu relato é que os poemas foram parar nas mãos de
pareceristas e a decisão final foi sugerir a publicação de três. Seja como for,
considero o mestre Barreto um dos meus padrinhos literários. Ele, o Noll (que
fez o prefácio de meu primeiro livro, Contos de homem) e o Marco Túlio Costa
(que me inventou cronista).
Para comemorar meus 40 anos de Rio, pensei em escrever uma
série de crônicas memorialistas, mas, quando dei por mim, não teria tempo para preparar
um livro a ser lançado em 5 de março de 2020. É uma tarefa hercúlea para um
sujeito desmemoriado e que não dá muito valor ao que viveu. As duas coisas
indicam que produziria um péssimo livro.
Quando estive na Feira Internacional do Livro de Ribeirão
Preto (Gilberto Abreu, outro conterrâneo, meu ex-professor de história e
escritor admirável, foi o homenageado), eu, Alexandre Marino e Nádia Monteiro
trocamos umas figurinhas e eles se prontificaram a ler minhas poesias. Foi uma
coisa linda e uma força danada. Depois pedi outras leituras (com respostas
igualmente lindas), de Adriane Garcia e Alberto Bresciani. Isso sem contar o
próprio Eduardo Lacerda, editor sensível, com pendores claros para a escrita e
a edição de poesias.
Se tenho um livro de poesia, ora, façamos de seu lançamento
a comemoração dos meus 40 anos na cidade maravilhosa, mas feia; de cultura
inclusiva, mas de segregação; da beleza dos corpos, mas de clima infernal.
É um livro bom? Olha, todo escritor é vaidoso, mas eu, no
caso da poesia, sou menos (já como contista e cronista, nem digo). Isso quer
dizer que estou mais preocupado com a comemoração do que com a qualidade da
poesia (todo escritor é mentiroso). De todo modo, acho que tem alguma coisa
bacana, sim, ao lado de poemas menores, ruins de verdade. Na realidade, em tudo
que faço (fazemos?) há essas duas porções. Passados 25 anos desde o lançamento
de meu primeiro livro, já não alimento grandes ilusões. Escrevo porque quero
falar com meu tempo.
Assim será. Ainda que formalmente não dedique meu livro a
esses caras que me deram a força inicial, o livro é deles, em especial do
Barreto.
#nenhumapoesiaumaantologia
Lançamentos:
15/02, em São Paulo (na Patuscada, Rua Murat, 40, Vila Madalena).
05/03, no Rio de Janeiro (local por ser definido).
 |
| Já em pré-venda. |
13.1.20
9.1.20
6.1.20
Esqueça os famosos
Para dona Euza, Cristina e familiares
do JC
Você conhece algum escritor famoso?
Foi o que me perguntaram quando participei, em 2018, de um
dos eventos ligados à Feira Literária de Passos, minha cidade natal. A pergunta
seca foi o ápice de uma participação tensa. Acompanhem.
Eu falava com alunos do ensino médio que não conheciam nem meus
livros nem meu blog, na realidade, não sabiam nada de mim. Quando era para ser
astro de um evento, me vi um zé-ninguém. Como sair daquela situação? Abri O
bichano experimental (Editora Patuá), livro que lançaria no dia seguinte, e,
apostando no humor como um bom jeito de iniciar o papo, li uma crônica a meu
juízo engraçada. As garotas e os garotos sequer ensaiaram um sorriso.
Minha única certeza era de que a conversa deveria servir-se
da literatura, então pensei em ler outra crônica do livro. Adolescentes gostam das
coisas que dialogam com seus calores. Agarrado a esta ideia, li "Arranjos
fresquinhos para uma velha cantiga pornográfica e outra antipatriótica". Eles
riram, as duas meninas sentadas logo na primeira fila se deram as mãos, o
ambiente desanuviou, passamos a falar uns com os outros. A leitura certa, na
hora certa, concluí.
Passado o embaraço inicial e alcançada uma certa cumplicidade,
estava preparado para tudo, mas talvez não para a singela questão, que, uma vez
formulada, fez meu cérebro ecoar incessantemente: famoso, famoso, famoso. Com
certeza, o meu famoso seria diferente do famoso daqueles jovens. Na minha lista
João Gilberto Noll, Maria Valéria Rezende, Stella Mariz Rezende, uma parte da fina
flor da literatura com quem mantenho laços afetivos. Como seria a deles? Youtubers
da hora, best-sellers de sempre, enfim, as celebridades daquela semana? Estávamos
num impasse, e eu poderia elaborar um ensaio tresloucado sobre a fama, mas não o
fiz. Ao se dar conta da besteira que eu gaguejava como resposta, sabiamente a
coordenadora encerrou a conversa.
Por que diabo gostamos tanto de famosos, dos famosos entre
os famosos, dos midiáticos, melhor dizendo? Por associá-los a super-humanos ou
a pessoas isentas das ziquiziras da vida? Hipótese medíocre, mas vai saber.
Não ligo para essa pompa incentivada pelo mercado e, de fato,
dentro ou fora da literatura, conheço poucos que se encaixariam nesse perfil. Desse
grupinho pequeno, o mais popular morreu na passagem de 2019 para 2020, o cantor
sertanejo Juliano Cezar, com quem convivi antes de ele se tornar estrela do show
business.
Não fomos os maiores amigos do mundo, mas compartilhamos
algumas mesas de bar, mantivemos animadas conversas de jovens. Sempre metido
com cavalos, o inicialmente peão de rodeios um dia me disse que seria cantor. E
foi. Em nosso último encontro, o já conhecidíssimo artista e eu fazíamos
compras na avenida da Moda da nossa Passos. Trocamos palavras amáveis, falamos
de sua mãe e da Cristina, sua irmã e (ela sim) minha amiga, demo-nos um abraço.
Ele era o cara humilde e educado de sempre e, mais importante, ainda sonhava.
Não acompanhei de perto a vida artística do Juliano, não
gosto muito do sertanejo, principalmente do mais recente, mas sua carreira se
meteu na minha vida. Conto.
Certa vez, no meu trabalho, recebemos por duas semanas um
consultor americano. Era um senhor boa praça, fácil de lidar. No início da
segunda semana da consultoria, perguntei a ele o que havia feito na folga. Mórmon,
descobrira onde era a sua igreja. Além disso, passeara pelo calçadão de
Copacabana e, principalmente, assistira a programas de televisão. Na
programação dominical, ouviu algumas músicas agradáveis, com um quê da música country americana. Anotara o nome de um
dos cantores, era o Juliano. No final do expediente, fui com ele a uma loja
comprar discos do meu amigo.
Senti orgulho daquele moleque, de maneira alguma por ele ter
sensibilizado um ouvinte estrangeiro; fiquei feliz ao constatar que o JC — não
o homem do palco, não o apresentador de televisão, não o famoso, mas o velho e
bom Lagartixa — realizara seu sonho de ser cantor. Boa, garoto!
Se pudesse voltar ao papo com os estudantes, diria que não
há escritor famoso, há escritores. Muitos, assim como Juliano Cezar fez com a
música, firmaram cedo seu compromisso com a literatura. A rapaziada deveria
procurar por eles.
Assinar:
Postagens (Atom)