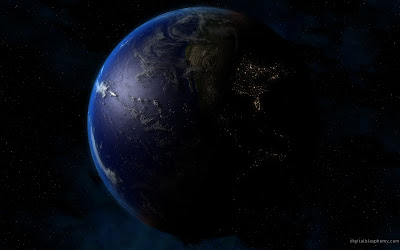Mamãe ralhava comigo só de pensar nos possíveis amigos mais velhos que eu pudesse ter. Tinha medo de que, inocente, eu aceitasse uma proposta para fazer bobagem com eles. Fazer bobagem era alusão ao sexo, portanto mamãe tinha medo de que os meninos mais velhos (nunca as meninas) abusassem de mim, seu caçula. Naquela época não vinham à tona os casos de pedofilia, mas Dona Haydée era ciosa de sua prole e temerosa de que algo de ruim atingisse os filhos. Nada diferente de outras mães, a não ser o fato de a minha ter sido um pouco mais medrosa que a maioria delas.
Os meninos “grandes” não me fizeram nenhum mal, e pela vida afora, sem trauma, sempre tive amigos mais velhos. Ainda os tenho, apesar de um ou outro já não estarem entre nós. Fazem-me falta, mas morrer é desígnio da vida e conformar-se é imperativo.
O convívio com os mais velhos — não na infância e adolescência, quando, de fato, a diferença de idade não passava de dois, três anos, mas agora, na aurora dos meus cinquenta anos — coloca dois mundos em confronto. O meu, de rapaz do interior de Minas, da década de 1960; o deles, de nascidos em torno de 1940, vindos ou não do interior. No espaço de vinte anos, menos até, o Brasil sofreu uma tremenda mudança, e isso fica patente se me comparo àqueles que vieram à luz durante a II Guerra Mundial, por exemplo. Eles estudaram latim no primário, viveram na pele a ditadura militar e, para não ser exaustivo, sofreram um bocado para transar com a namorada. Nunca estudei latim; a ditadura estava dada quando “virei gente”, portanto sofri suas consequências — uma delas a de ter uma escola menos crítica, mais tecnicista —, mas não fui submetido aos constrangimentos físicos pelos quais passaram aqueles que se voltaram contra ela; e as namoradas da minha geração, nem todas, claro, mas uma grande parte delas, foram mais liberais.
Matuto a respeito de manter amizades como essas. Acho que perduram em grande parte pelo fato de nenhum dos meus amigos “velhos” serem nostálgicos. Deles não ouço nunca, ou quase nunca, a afirmação de que o passado era melhor que o presente. O presente tem o rabo preso com o passado, e eles sabem disso. Acertos e erros atuais foram semeados ontem.
Otto Lara Resende dizia que tudo visto de longe — seja em termos de distância (a terra, pelos astronautas), seja em termos de tempo (o passado longínquo) — é azul. Bela imagem do escritor mineiro, mas, na realidade, o passado é bom porque nele fomos jovens. E, quando se é jovem, tudo é fulgurante. Amamos com intensidade. Não somos moderados ao comer e principalmente ao beber. Como dizia o Renato Russo, vivemos como se não houvesse amanhã.
Os medos de minha mãe foram infundados, e hoje ela se espantaria ao saber que seu caçula passou a ser o amigo mais velho de muita gente por aí. Nessa condição, espero não perder de vista que o azul do passado é apenas o reflexo dos tempos em que fui senhor do mundo.